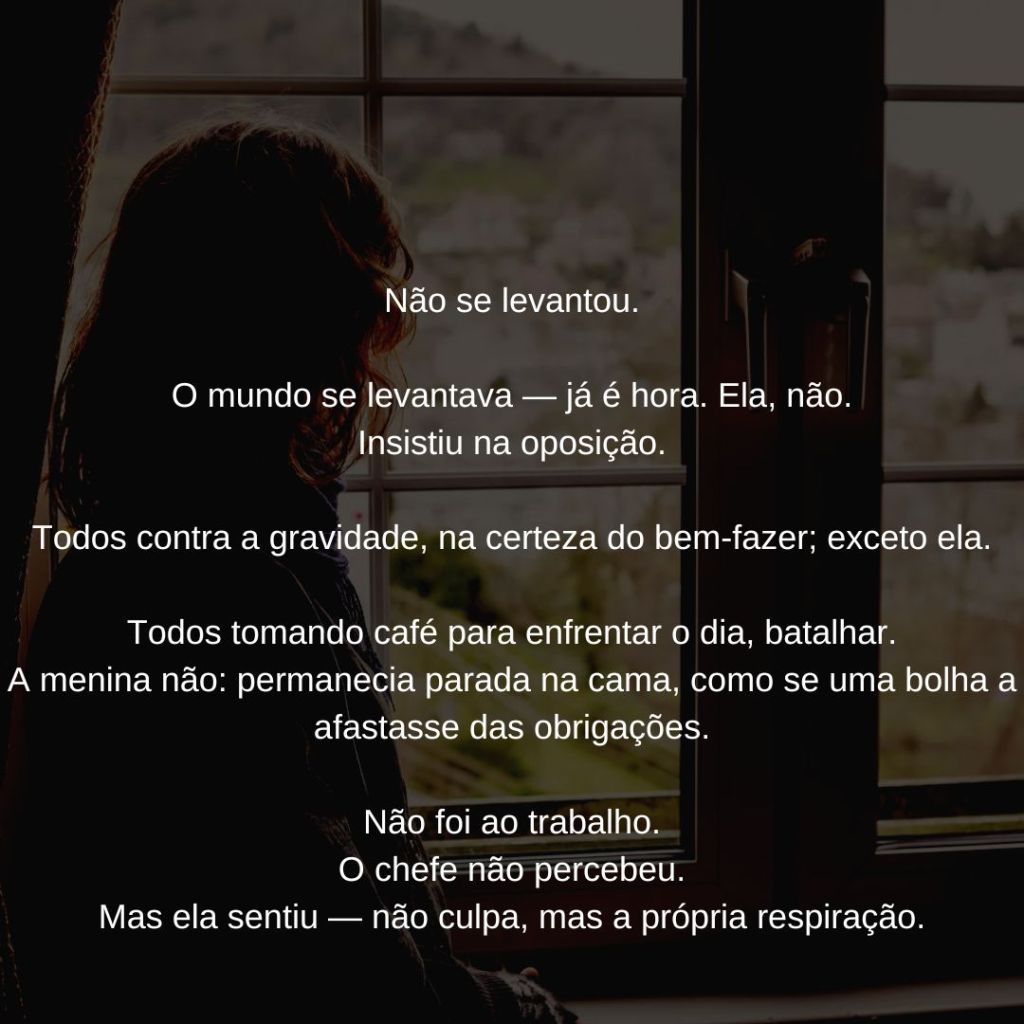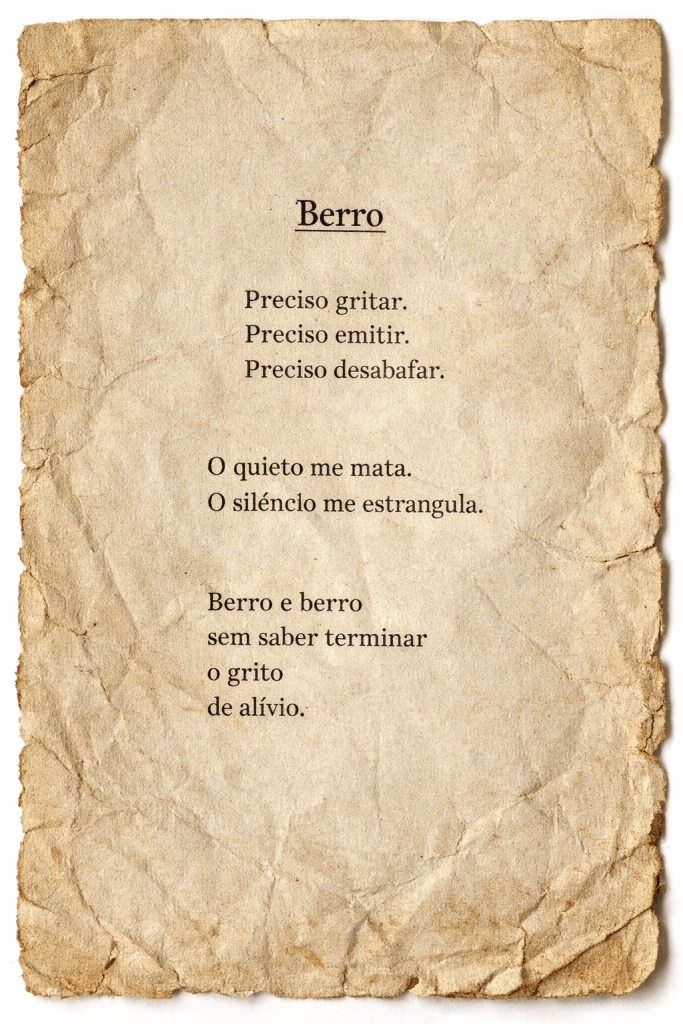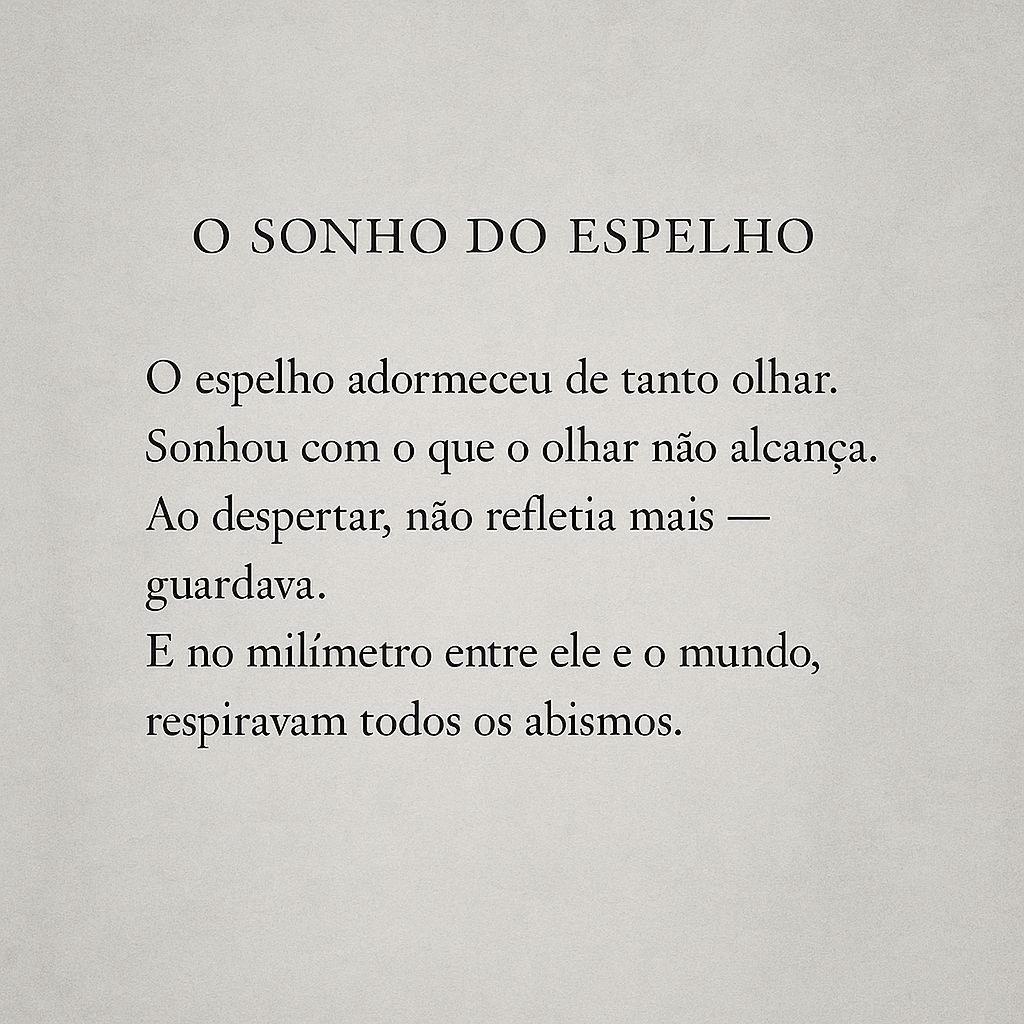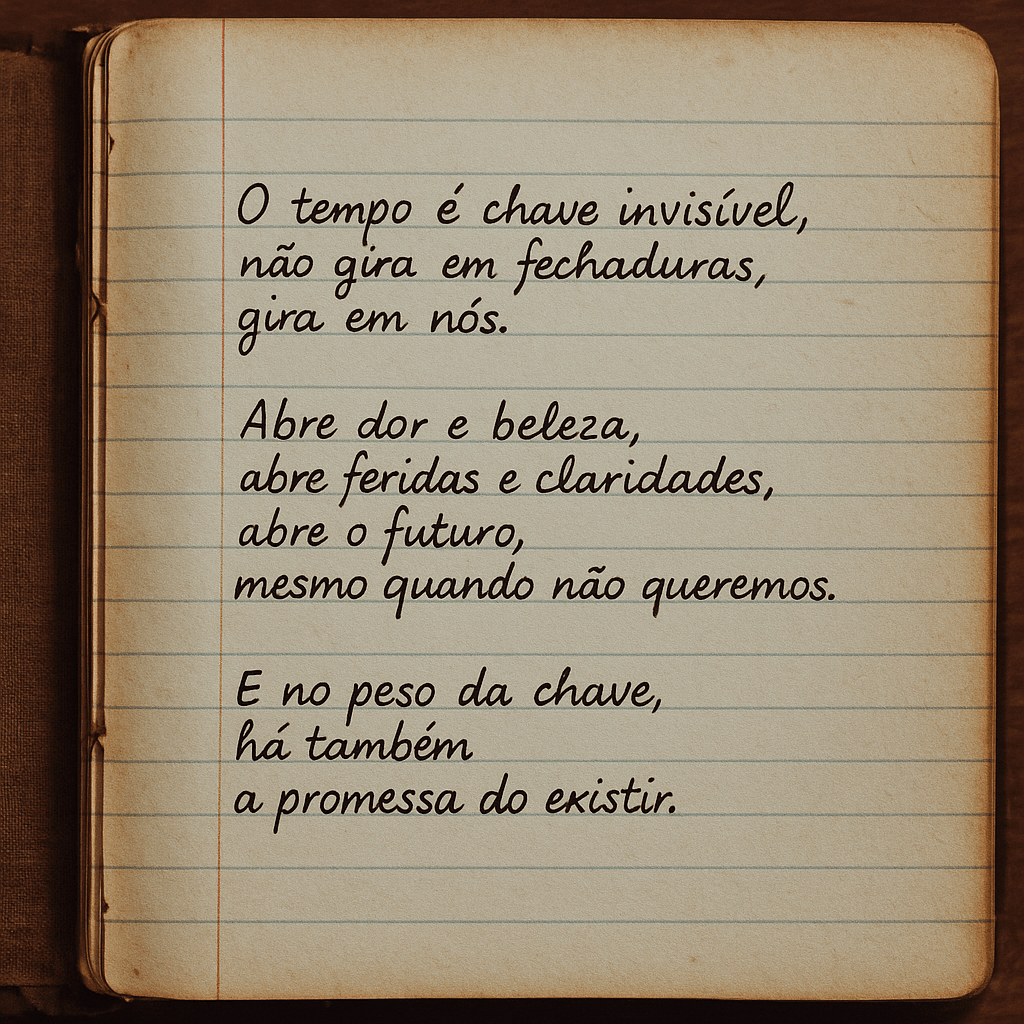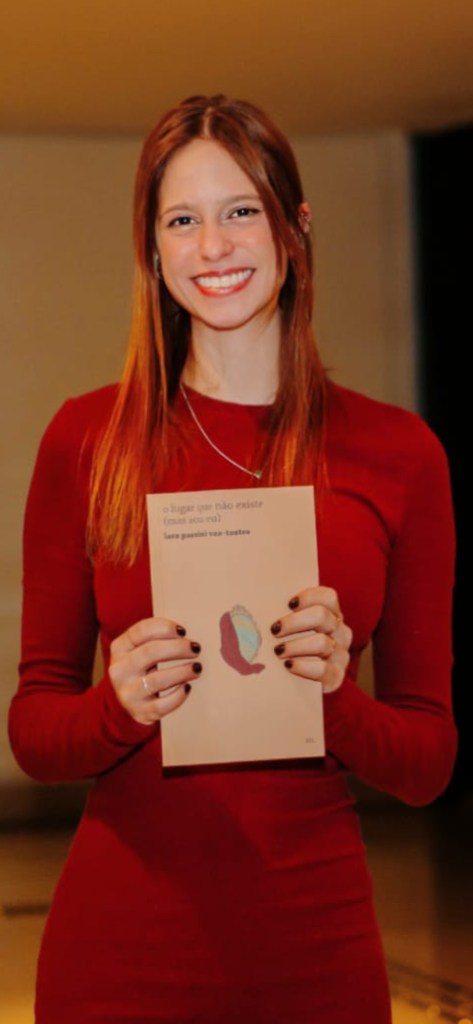Silêncio.
Nenhum ruído ao redor — nem mesmo aqueles que costumam sobreviver quando tudo se cala. Estou só. Parada. Os ouvidos parecem inúteis, ou talvez necessários apenas para ouvir a paz, se é que ela faz som.
Nada em volta.
Meus pés descalços tocam um chão branco, limpo, sem marcas, sem restos de passagem. Um chão que não conta histórias. Ao pisá-lo, duvido da minha própria presença. Estou aqui? Sou corpo, sou alma? Não sei. Mas os pensamentos estão. Eles permanecem.
São eles o único som.
Ecoam alto, quase demais, como se precisassem provar que existo. Ouço cada um. Ouço inclusive o pensamento que pensa este instante — e isso me faz sorrir por dentro, embora o rosto permaneça imóvel.
Tento nomear o que é isso. Paz? Solidão? Angústia? Descanso? As palavras rondam, mas não pousam. Nenhuma se fixa tempo suficiente para virar verdade.
Então percebo outro som.
Meu coração. Ele bate. Não com urgência, nem com entrega. Bate como quem marca presença sem exigir atenção. Parece mais lento. Não estou calma — mas também não estou agitada. Não há medo. Não há impulso de fuga.
Há um vão.
Um espaço entre ser e precisar ser. Um intervalo onde não se exige resposta, nem forma, nem sentido. Um não-estar que, estranhamente, sustenta.
Percebo que, às vezes, necessito disso.
Desse lugar onde nada me convoca. Onde não preciso me reconhecer para existir. Onde fico.
Não sei por quanto tempo.
Mas fico.
Em silêncio.
Em pensamento.
Em coração.